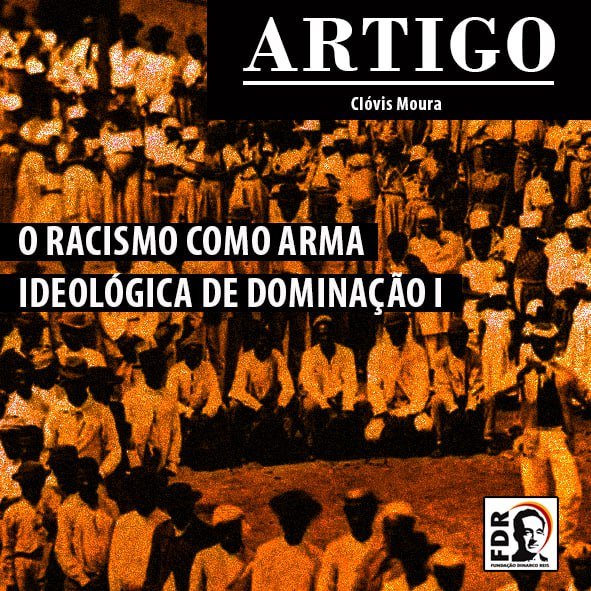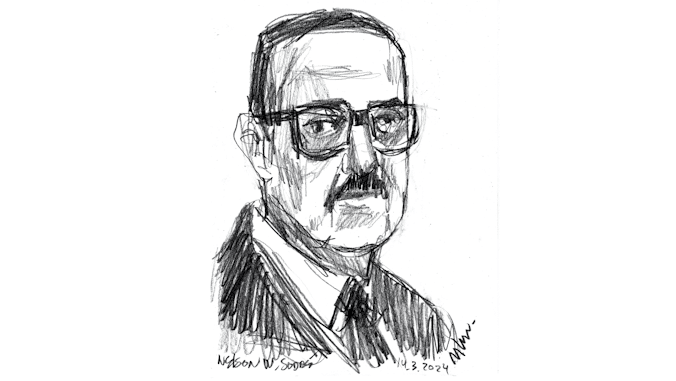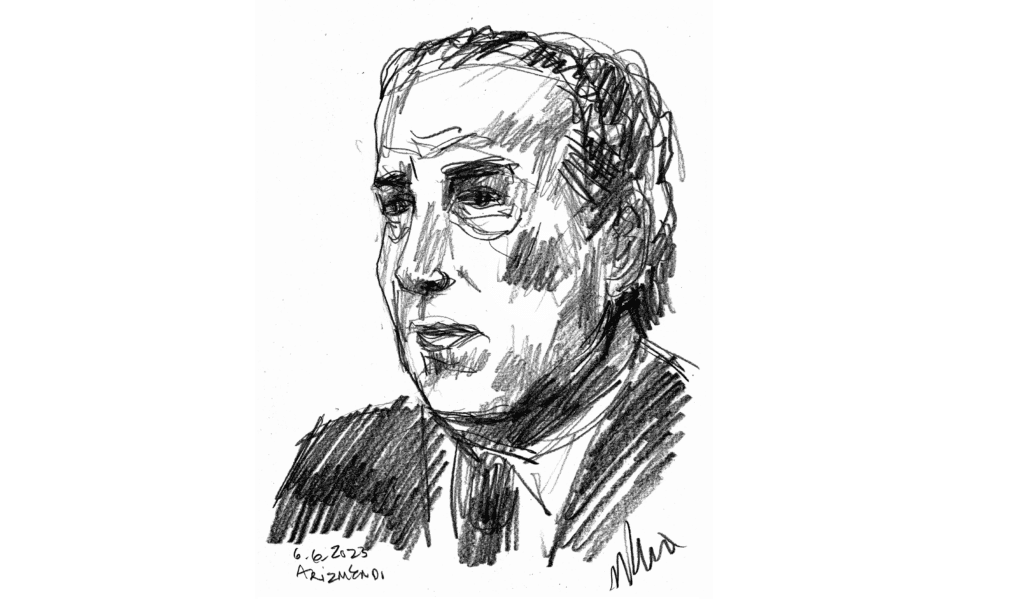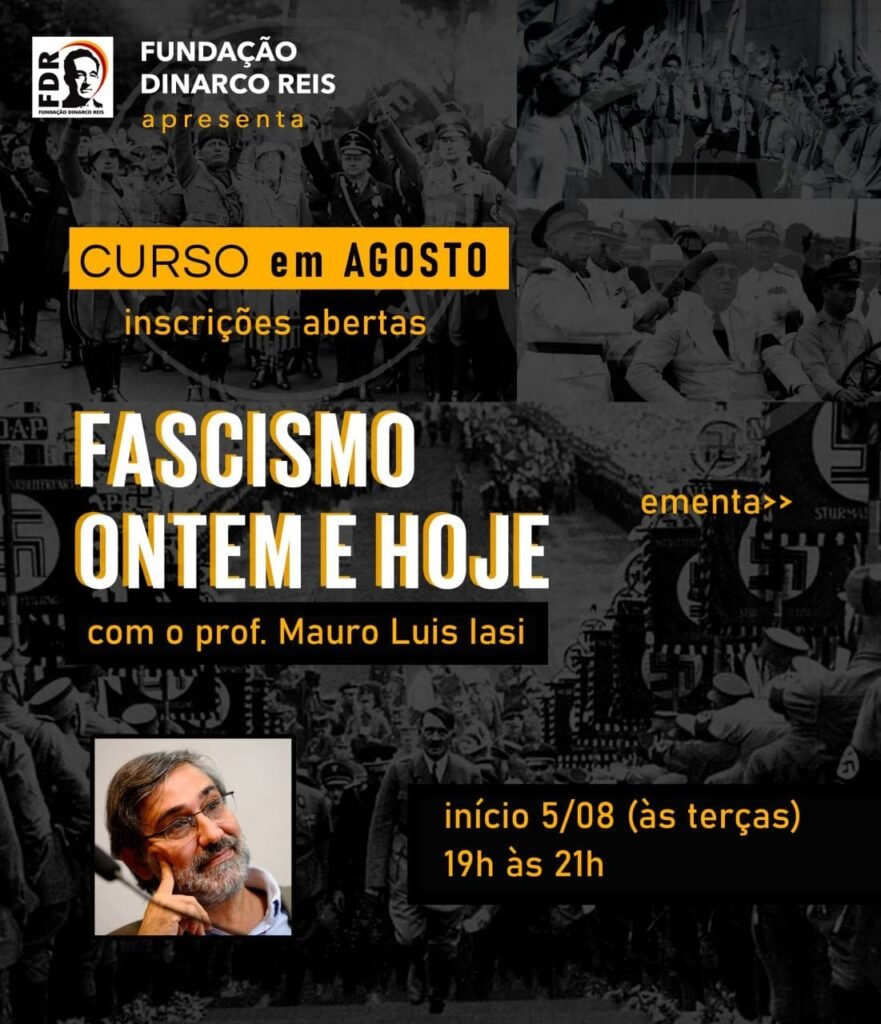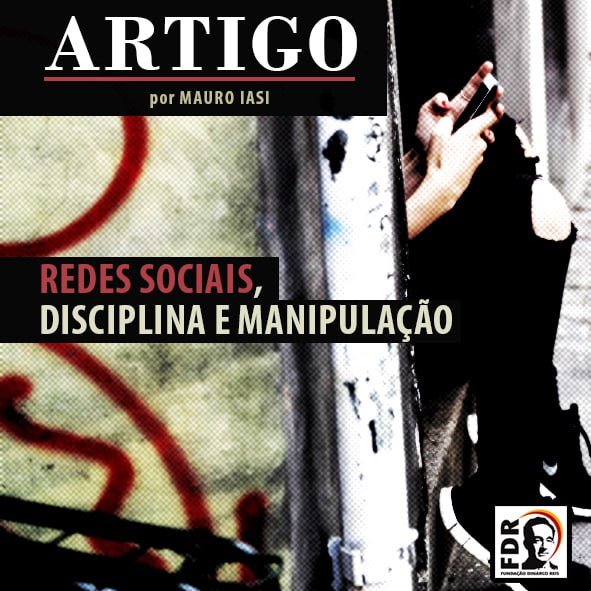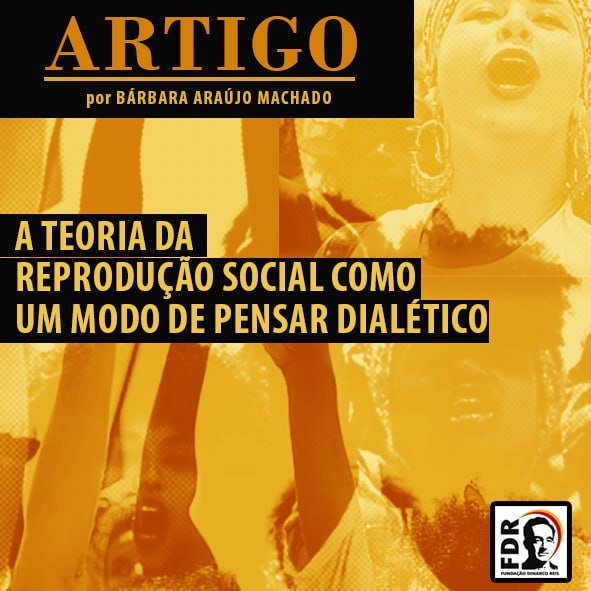Qual disciplina falta à esquerda nas redes sociais?
Por Mauro Luis Iasi – é professor adjunto da Escola de Serviço Social da UFRJ, pesquisador do NEPEM (Núcleo de Estudos e Pesquisas Marxistas), do NEP 13 de Maio e membro do Comitê Central do PCB para o Blog da Boitempo
“Não podemos construir nossa disciplina e nossos valores com base em relações futuras a serem criadas com a mudança radical da sociedade. Os valores próprios da luta contra a ordem burguesa se fundam nas relações que podemos estabelecer no curso da própria luta, no terreno vivo de nossas organizações, na medida em que consigamos imprimir nelas uma qualidade nova e emancipatória.”
Mauro Luis Iasi discute a disciplina da extrema direita nas redes sociais e como a esquerda deve ocupar esse espaço
“Eu para mim é pouco”
— Maiakóvski
“Se considerarmos essa publicidade num país capitalista altamente desenvolvido em sua totalidade social, ela pressupõe (…), como Hitler já havia constatado, uma influenciabilidade quase ilimitada dos homens, da crença de que qualquer coisa lhes poderá ser sugerida, desde que se descubra o método correto de fazê-lo.”
— Lukács em Para uma ontologia do ser social, volume II
Em um debate recente com meu amigo Valter Pomar, promovido pelo SINASEFE de Sergipe, o dirigente petista colocou uma questão que me parece da maior relevância e nos instiga à reflexão. Pomar afirmou que a extrema direita, através das redes sociais, logrou produzir uma disciplina em sua base de massa — entendida como a capacidade de uma ação eficaz e homogênea —, ao mesmo tempo em que falta a disciplina na perspectiva de esquerda. Ressaltou, contudo, que esta não poderia ser alcançada pela esqueda pelos mesmos meios, mas através de formas coletivas de organização e luta.
Pode parecer um paradoxo a busca da disciplina, uma vez que no campo da ação política da extrema direita ela parece se apresentar como inseparável da manipulação e do irracionalismo, ao passo que esperamos uma ação consciente e emancipatória. Acredito, no entanto, que aqui se apresenta um tema que pode lançar luz, ao mesmo tempo, sobre os métodos e caráter da manipulação da extrema direita e suas significativas diferenças em relação à práxis transformadora.
Leia mais →